
Love, death & robots
Com a chancela de Netflix e o dedo de David Fincher, surge esta série de curtas, compiladas sob um denominador comum: amor, morte e robots; na maior parte dos episódios, em particular numa pérola chamada “Witness”, o resultado é um assombro técnico que tanto nos arrebata, como paradoxalmente nos inquieta, insinuando um novo tipo de cinema, uma outra abordagem ou perspectiva. Explorando os limites da nossa própria percepção como espectadores, utilizando a tecnologia como arte da imitação da realidade, mas não só, mesmo de transformação e expansão dessa mesma realidade, os autores desta série acabam por levantar o véu do que poderá ser o futuro da sétima arte, em que o actor humano poderá ser substituído pelo seu avatar digital, ou mesmo por uma sua mera representação. Copolla uma vez advertiu que o advento dos canais payperview poderia significar o estreitamento da ligação ecrã/espectador, implicando uma maior interactividade das produções mas também, e aqui é que “Love, death + robots” tem algo a dizer, numa nova figuração do actor, representativa e pictórica, o actor completamente reduzido à personagem, um boneco, no sentido lato e estrito, ao serviço do enredo. Remete-se então para a pergunta central invocada neste projecto: será que o espectador quer, ou precisa, de ver actores humanos, que existam para além do ecrã, para que a sua experiência seja completa e satisfatória? Pergunta com espinhos, já que a pujante indústria dos videojogos demonstra aparentemente o contrário.
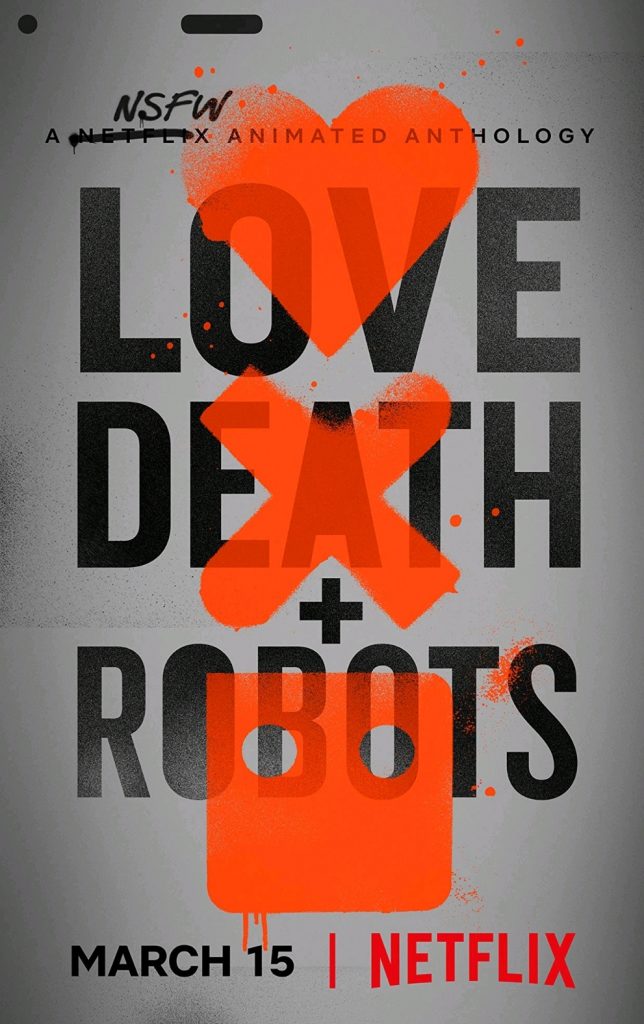
Lara Croft foi protagonista do imaginário de muitos adolescentes na década de 90, e a personagem de um conhecido jogo de aventuras, “Tomb Raider”, um campeão de vendas da indústria. Lara Croft é uma personagem inteiramente virtual, podia ser um desenho animado da Disney, uma figura de algum quadro de um pintor conhecido, mas trata-se em suma de uma personagem, descrita vagamente no videojogo, representada visualmente de costas e algumas vezes a três quartos, e mais completamente nas introduções dos capítulos da eventura. E no entanto, Lara Croft sobreviveu ao jogo, tornando-se um icon pop do final do século. Hollywood rapidamente se apercebeu da mina de ouro e produziu uma versão cinematográfica de “Tomb Raider”, onde Lara Croft era protagonizada por ninguém mais nem menos que Angelina Jolie. O filme no entanto, apesar de não ter sido um fracasso comercial, não teve o sucesso que se esperava, e não conseguiu prolongar o mito de “Tomb Raider”, e em particular, o de Lara Croft para além do videojogo, e isto é muito interessante. Talvez o espectador fã do jogo reconhece-se Angelina não como Lara Croft, a personagem, mas como uma sua tosca representação, e o que anseavam era pela Lara original e não a sua versão hollywoodesca. O distanciamento do espectador em relação à versão da personagem demonstrou a nova dinâmica entre ela própria e a sua figuração. Uma personagem digital, idealizada, despida de humanidade na sua representação, não humana em absoluto, é impossível de ser retratada a não ser na sua exacta figura original, ou em versões dela mesma. Por isso Lara Croft continua a ser o boneco virtual do jogo e não a morena de lábios grossos do filme. Isto foi algo de completamente novo no cinema e abria desde logo excitantes possibilidades na indústria. “Beowulf” de Robert Zameckis foi mais um passo seguro nesta direção, representando as personagens numa lógica invertida: do boneco digital para a sua forma humana, já que as personagens digitais do filme eram versões de actores humanos, um truque curioso com a intenção de manter a identificação do espectador com faces familiares do mundo comum. O que “Beowulf” provou é que esta nova abordagem pode de facto funcionar, ultrapassadas muitas questões técnicas e de logística, tornando-se uma alternativa plena aos normais circuitos cinéfilos. Não é bem banda desenhada digital, não é bem manga, não é bem desenhos animados e não é bem animação, pelo menos num sentido restrito do termo , é mais ambicioso e mais abrangente no seu propósito e objectivo.
Poderá o cinema estar irrevogavelmente no caminho destas personagens completamente pictóricas, substituindo a figura humana pela digital, identificando o espectador com esta espécie de actores desprovidos de existência em absoluto, a não ser no universo restrito da história? Seja qual for a resposta, “Love, death & robots” é já um símbolo desse novo trilho que se afigura prometedor nos próximos anos.
